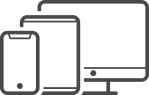“Meu nome é Leandro Azeredo, eu tenho 21 anos e eu trabalho como chapeiro. O meu sonho sempre foi ser advogado, mas não rolou para mim. Cês tão ligados no ICAES, né? Meu professor é que me incentivou a prestar vestibular, a tentar bolsa social, e aí eu fiquei na lista de espera. Eu não tentei de novo, não ia ter como, eu sabia que ia precisar fazer dinheiro, trabalhar […] minha chance passou”.
“Eu sou Stephanie, tenho 23 anos, eu moro na Baixada e trabalho nessa loja aqui na Zona Sul. Sempre tive o sonho de ser juíza e precisa ter uma boa graduação. Há quatro anos eu venho tentando entrar no ICAES, mas ainda não consegui. Eu durmo três, quatro horas às vezes.”
O ICAES, tradicional faculdade de Direito do Rio de Janeiro, só existe na ficção, assim como Leandro e Stephanie. Os personagens tiveram uma aparição relâmpago no capítulo de 26 de março da novela Vai na Fé, exibida na faixa das 19h da Rede Globo. Eles participam de um vídeo gravado por colegas de Otávio (interpretado por Gabriel Contente), jovem branco de classe média que fraudou as cotas sociais para ingressar na universidade – e acabou ficou com a vaga de um dos dois.
Os amigos, também bolsistas, mas estes por direito, tentam convencê-lo do impacto da infração cometida e a assumir a fraude depois de assistir aos depoimentos.

A novela tem surpreendido com recordes de audiência e levou para a casa de milhares de brasileiros um debate que fervilha nas universidades desde que a Lei de Cotas foi implementada em 2012, reservando oficialmente 50% das vagas no Ensino Superior para estudantes oriundos de escolas públicas. Este percentual ainda é subdividido em cotas para pessoas com deficiência, por renda e por raça – incluindo pretos, pardos e indígenas.
Com a política em vigor, as universidades já não são mais as mesmas. Ainda em 2019, as federais já registravam mais de 70% de alunos de baixa renda, que viviam com até 1,5 salário mínimo. Em 2021, a USP, uma das últimas a adotar a reserva de vagas, alcançou pela primeira vez mais de 50% dos alunos egressos de escolas públicas – sendo que 44,1% destes se autodeclaravam pretos, pardos ou indígenas.
Mas nem todos os números relacionados às cotas no Ensino Superior são motivo de comemoração. Um levantamento recente da GloboNews junto às universidades federais indicou que houve pelo menos 7 casos de fraude em cotas raciais comprovados por mês entre 2020 e o final de 2022, cerca de 271 ocorrências no total. Outras centenas de denúncias ainda estão sendo investigadas.
Embora a política esteja mudando a cara das universidades brasileiras, ela trouxe consigo um problema de difícil solução, sobretudo em um país profundamente miscigenado como o Brasil. E, assim como na novela, estudantes da vida real se viram por muitos anos incubidos de uma tarefa angustiante que não lhes cabia: buscar soluções para as fraudes de cotas.
+ Cotas raciais: quem pode concorrer como PPI
“É uma tensão que não é saudável nem para o fraudador, em termos de saúde mental, mas principalmente para as pessoas cotistas”, pontua o advogado Lucas Módolo, de 26 anos, formado em Direito pela USP (Universidade de São Paulo) e cujo tema de mestrado foram as metodologias para implementação de cotas para negros no Brasil.
Para ele, esta tensão deveria ser tratada como um problema público e responsabilidade de quem está implementando a política afirmativa – ou seja, as universidades.
Fraude que se capilariza
Lucas presenciou ele próprio essa “angústia”, como descreve, a partir de 2018, quando as cotas foram implementadas pela primeira vez na USP. Diferente da novela, em que os colegas descobriram tardiamente que conviviam com um fraudador, nos corredores da mais prestigiada faculdade de Direito do país a violação estava escancarada: pessoas brancas haviam se passado por negras para conseguir as vagas destinadas às ações afirmativas.
Uma vez dentro da universidade, os fraudadores integravam-se ao ambiente: entravam para o movimento estudantil, praticavam esportes e, em muitos casos, tentavam até mesmo se inserir no coletivo negro.
+ Permanência: por que as cotas não bastam para democratizar a universidade
Além de barrar a presença dos fraudadores nas reuniões do coletivo, a solução encontrada pelo advogado e alguns amigos foi a criação do Comitê Antifraude às Cotas Étnico-Raciais, órgão extraoficial que, daquele ano até meados da pandemia, reunia e encaminhava para a USP denúncias de supostas fraudes nas vagas afirmativas.
Ele explica que o trabalho do grupo não era cravar quem de fato havia fraudado: o que eles faziam era checar as denúncias que chegavam, comparando com fotos dos acusados encontradas nas redes sociais. Então, repassavam para instâncias institucionais da USP os casos em que os candidatos eram seguramente brancos – ou aquelas situações em que havia uma pontada de dúvida, o que tornava tudo mais complexo.
O “racismo de marca” e uma conta que não fecha
Para combater o racismo, é preciso entender como ele opera. Era isso que defendia o sociólogo Oracy Nogueira (1917-1996), considerado umas das maiores referências sobre o tema no país. Para explicar como o racismo se manifesta por aqui, ele criou o conceito de “preconceito racial de marca” e “preconceito de origem”.
“Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico para que sofra as conseqüências do preconceito, diz-se que é de origem”, explica no artigo que deu fama à teoria.
No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, se sobressai o preconceito de marca. Ou seja, as pessoas sofrem com o racismo por apresentarem características próprias de pessoas negras, como pele mais escura ou cabelo crespo. E é por isso que, ao avaliar quais candidatos se enquadram nos critérios das cotas étnico-raciais, é preciso olhar para as características físicas que eles apresentam, não bastando que tenham pais ou avós negros.
A teoria é essa, mas em um país profundamente miscigenado como o Brasil, a conta não é tão simples assim. Foi isso que Lucas Módolo percebeu desde que se envolveu no debate sobre cotas raciais.
“Quem é negro e quem não é no fim das contas? Existem negros de cabelo liso, existem negros de pele mais clara. São temas todos muito sensíveis que precisam ser tratados com excesso de cuidado”, avalia.
Esse zelo passa pela capacitação das bancas de heteroidentificação, implementadas nas universidades para verificar se os candidatos que se valeram da política de fato tinham direito a elas.
+ Cotas raciais: por que as universidades adotam bancas de verificação?
Afinal de contas, defende o advogado, as fraudes nas cotas raciais não são responsabilidade individual de determinados estudantes, mas sim das universidades que implementaram a política. “A pessoa tem uma parcela de culpa por ter ingressado e ter fraudado, mas é uma responsabilidade da universidade que teria que ter impedido a confirmação dessa candidatura”, defende.
Lucas vai além e afirma que mesmo essa culpa individual pela fraude é passível de questionamento, já que nem todos têm consciência de que se apropriaram de algo que não era seu – ao contrário do personagem Otávio, da novela Vai na Fé, que falsificou documentos para se passar por um estudante de baixa renda.
“Na minha avaliação, a maior parte das pessoas frauda por conta dessa complexidade das identidades raciais no Brasil. Não tem um culpado por isso. O culpado é o Estado brasileiro, tanto que ele é o responsável por fazer a gestão dessas bancas [de verificação].”
De sabotador a defensor: a importância do debate sobre as cotas
O comitê criado por Lucas e seus colegas em 2018 foi exitoso: graças às denúncias encaminhadas por eles, a USP abriu muitos processos de invalidação de matrículas de pessoas acusadas de fraude e, em julho de 2020, tomou uma decisão histórica expulsando, pela primeira vez, um destes fraudadores.
Mas a maior vitória veio mesmo em 2022, quando foi anunciada a criação de uma banca de verificação institucional, criada pela universidade para averiguar previamente os casos suspeitos de fraude e impedir que estas pessoas se matriculassem. Dessa forma, o trabalho de verificação passou a ser responsabilidade da universidade – não depende de alunos como Lucas. Com isso, as vagas não são “perdidas”, e quem de fato têm direito a elas pode ser convocado a tempo do início das aulas.
A USP ainda não divulgou o balanço deste primeiro ano de trabalho da banca, mas Lucas Módolo – que participou da concepção do projeto e ajuda a capacitar os avaliadores – já consegue afirmar é que alguns estudantes foram barrados no momento da matrícula.
Ninguém comemora, porém, a expulsão de alunos. Os organizadores ficam mesmo felizes nos dias em que a maioria das verificações concluem que os candidatos que ingressaram via cotas raciais de fato eram negros.
O próximo passo, segundo Lucas, é convencer a sociedade de que as bancas de verificação não são um tribunal, mas uma ferramenta para o avanço da política de cotas. Ele também sonha com o dia em que as fraudes vão cessar não pela intimidação, mas pelo avanço no debate racial no país e pela sensibilização da importância da medida.
A tarefa, até lá, é ampliar o debate – de novelas a iniciativas do Estado – para que a população saiba, em primeiro lugar, que as cotas existem e quem têm direito a elas. E depois se convençam do propósito da política.
“Muito provavelmente, essas pessoas [que fraudam] se tornariam, inclusive, defensoras da política e não sabotadoras”.