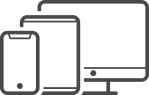FILOSOFIA E ATUALIDADES
Entenda de que forma o pensamento clássico se relaciona com os acontecimentos contemporâneos
Bauman e os Movimentos Sociais no Brasil Contemporâneo

A modernidade é (ou foi) um projeto de emancipação do ser humano: pelo livre pensamento, o homem estaria emancipado das imposições dogmáticas da Igreja e poderia escutar a própria consciência; pela democracia representativa, o homem estaria emancipado da tirania do Estado e poderia conviver com as diferenças e ter voz na política; pelo livre-comércio, o homem estaria emancipado da sociedade de ordens, de maneira que o liberalismo econômico nos livraria da fome e nos garantiria a possibilidade de ascensão social.
Sob esses pilares, iniciados no Renascimento (séculos XIV-XVI) e consolidados, na teoria, pelo Iluminismo, e, na prática, pelas revoluções Francesa e Inglesa, ergue-se a defesa da civilização ocidental. Para alguns, a civilização ocidental está ainda em construção. Para outros, ela tem pés de barro – seus pressupostos, quer dizer, a existência de indivíduos guiados pelo próprio interesse, foram derrubados pela moderna psicologia. Outra visão ainda aponta que ela estaria muito ligada a um tipo de economia (capitalista) e um tipo de sociedade (burguesa) fadados ao colapso devido às contradições insuperáveis dentro desse sistema.
É nesse sentido que devemos compreender a obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que desenvolve algumas explicações para a atual crise da modernidade. Segundo o autor, a modernidade anterior, que ele chama de “sólida”, era caracterizada por uma confiança vigorosa no futuro. Por isso, nela emergiram as utopias das mais diferentes matizes.
Atualmente, Bauman diz que as relações sociais e as instituições estão contaminadas por uma enorme “liquidez” – fluidez, ausência de forma definida, velocidade, mobilidade e inconsistência: daí o termo “modernidade líquida”. Essas características podem ser observadas no trabalho (flexibilização de leis, trocas rápidas de carreira), no amor (o “ficar”, as dificuldades em lidar com um relacionamento profundo) ou na guerra (o terrorismo e os ataques esporádicos).
A antiga confiança “sólida” num futuro perfeitamente arquitetado pela razão foi substituída pela incerteza. O futuro tornou-se, assim, nebuloso e indefinido para os homens. A modernidade líquida é caracterizada pelo enfraquecimento das utopias ou, melhor dizendo, pela predominância das “distopias” ou das “utopias negativas” – sabe-se apontar problemas e dificuldades no mundo, mas poucos conseguem oferecer alternativas consistentes. Em resumo, nas palavras do compositor Cazuza, “meu partido é um coração partido”; ou, como diria Renato Russo da Legião Urbana: “Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto”.
Entre os anos de 2013 e 2016, o Brasil conheceu as maiores manifestações populares de sua história. Desde a década de 1980, não se via tantos brasileiros irem às ruas por questões políticas, sociais e econômicas. Assim, alguém poderia objetar, a análise de Bauman já estaria datada? O Brasil voltou à era das utopias e da confiança no futuro?
Pensadores que analisam o mundo à luz da obra de Bauman diriam que não. Todos os protestos, de 2013 a 2016, são caracterizados pela horizontalidade e fluidez: ausência de lideranças definidas, multiplicidade, divergência de pontos de vista, mesmo dentro de uma mesma manifestação. A fluidez e a rapidez das informações na internet, que engloba desde notícias falsas até a transmissão em tempo real por mídias alternativas, contribuem para esse aspecto.
Numa passeata contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, além de grupos ligados ao seu grupo político, o Partido dos Trabalhadores (PT), estavam presentes a dita oposição à esquerda do PT – o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) –, sindicatos, movimentos sociais e adeptos da tática black bloc, que, inclusive, chegaram a ser hostilizados em várias cidades pelos próprios membros do PT ou do PSOL. Mesmo dentro dessa corrente, não existe um consenso sobre o projeto de país que desejam, se é social-democrata ou socialista, ou mesmo o que representariam essas correntes. O mesmo pode ser dito daqueles que defenderam o impeachment. Grupos empresariais, liberais ortodoxos, defensores da volta da ditadura militar, pessoas temerosas do “avanço” do “socialismo cubano” sobre o Brasil.
Ao longo da história, é preciso frisar, a divergência de percepções, projetos e expectativas é comum aos grupos políticos e aos movimentos da sociedade civil. Mas, na atualidade, essas diferenças chegaram a tal nível que a somatória de demandas individuais acabou sufocando os projetos efetivamente coletivos, tornando difícil qualquer generalização. Essa diversidade de percepções caracteriza a “liquidez” de que fala Bauman: uma fluidez, mudança e incerteza quanto ao projeto necessário para fazer a sociedade avançar.
Mas essa fluidez seria negativa? A leitura dessas questões à luz de Bauman pode dar a muitos uma impressão, um tanto pessimista (e, no limite, fatalista), de que vivemos tempos terríveis, uma vez que nada é para durar e todos os projetos são passageiros. Entretanto, é preciso lembrar que as utopias dos séculos passados nos levaram a horrores e tragédias sem precedentes, como os massacres nazistas, soviéticos, chineses, as perseguições macarthistas ou as guerras na Coreia, Vietnã e as bombas atômicas no Japão. Morreu-se e matou-se por todas as ideologias – nenhuma potência ou grande corrente ideológica saem incólumes do tribunal do século XX.
Assim, em vez de uma época terrível, essa atual “crise de utopias e projetos” não poderia ser um sinal de maior amadurecimento da humanidade? Não seria um sinal de que a sociedade não mais aceita a ideia de um projeto único redentor e, por isso mesmo, totalitário, uma vez que não admite outros projetos? O fato de a nossa sociedade ser caracterizada pela multiplicidade de propostas – ainda que limitadas – pode ser um ganho: no diálogo, na ação comunicativa, como diria Habermas, é possível encontrar várias respostas para vários problemas. Mais do que isso, é possível aprender no erro e na crítica, é possível voltar atrás. Com todos os problemas, uma sociedade que admite a diferença e a pluralidade é sempre preferível a uma sociedade guiada por um único projeto ou ideia de salvação quase messiânica, a qual não tolera quaisquer outras possibilidades de caminhos de resposta para nossos problemas históricos.
Escola e Ideologia

Em 2016, ganhou força no Brasil o debate sobre o projeto de lei que pretende incluir as propostas do movimento conhecido como Escola sem Partido nas diretrizes educacionais do país. O Escola sem Partido faz referência a uma suposta “doutrinação política e ideológica” que ocorreria nas escolas brasileiras. A proposta do movimento é afixar um cartaz em todas as salas de aula do Brasil contendo as atribuições do professor, com ênfase na neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado.
Independentemente de qualquer posição sobre o projeto de lei, para uma discussão aprofundada sobre o assunto é preciso, antes de tudo, colocar-se a seguinte questão: é possível uma ciência neutra e imparcial, isto é, destituída de qualquer ideia (ou ideologia) que a norteie?
No século XIX, quando foram formalizadas nas universidades as chamadas ciências humanas, a objetividade (ou “imparcialidade”) absoluta era o horizonte das ciências. Augusto Comte, pai do chamado “positivismo”, clamava para que a sociologia fosse uma espécie de “física social”: tal qual as ciências naturais empíricas, ela deveria descrever a sociedade da mesma maneira que um físico trata da lei da gravidade – isto é, sem envolver a subjetividade do autor. Entre os historiadores, grandes nomes como Fustel de Coulanges e Leopold von Ranke clamavam por uma história que se limitasse a descrever os fatos, de modo que os documentos falassem, e não os autores.
No século XX, entretanto, as ciências mudaram seus paradigmas. A física quântica, por exemplo, mostrou que o sujeito e o objeto são inter-relacionais, ou seja, quando um cientista analisa uma questão, queira ou não, ele já embute nela sua subjetividade. Os historiadores da chamada Escola dos Annales, da mesma maneira, mostraram que alguns historiadores do século anterior, acreditando que estavam fazendo uma história “objetiva”, descreviam apenas a história dos reis e políticos, isto é, dos poderosos. Sendo humanamente impossível descrever todos os fatos sob todos os pontos de vista, os cientistas sociais, por mais que buscassem uma neutralidade possível, admitiram que sua análise seria sempre parcial, isto é, limitada.
Pense, por exemplo, que um colega de sua sala de aula foi mordido por um cachorro e fosse pedida uma narrativa do fato por parte de todos que caminhavam nas ruas durante o acontecimento. Certamente, as narrativas seriam diferentes – e nenhuma necessariamente mais falsa do que a outra. As pessoas, invariavelmente, enxergam o mundo a partir de seus lugares, experiências e pontos de vista, e não há nada de errado nisso. Se isso ocorre com um evento banal como a mordida de um cachorro, imagine com a origem do universo, o surgimento do homo sapiens, a história da escravidão ou o racismo brasileiro?
Não há conhecimento humano que não esteja contaminado por alguma subjetividade. A filosofia, cabe lembrar, já percebera isso havia muito tempo: pensadores como David Hume e Immanuel Kant, no século XVIII, já deixaram claro em suas obras como o ser humano entende o universo a partir de suas próprias intuições e categorias, de maneira que o “objeto em si” é inacessível ao nosso intelecto. A objetividade absoluta é um privilégio dos deuses. Entretanto, mesmo que seja parcial e limitado, nosso conhecimento não é algo inútil ou dispensável: diariamente, ele nos possibilita o encantamento com um romance, o tratamento de uma doença antes vista como incurável, o conhecimento de algo sobre o espaço, a lua ou os nossos antepassados.
No bojo desse debate, Max Weber, o maior sociólogo do século XX, em seu clássico Política como Vocação, não deixou de reconhecer que a objetividade absoluta é impossível: sua defesa por uma neutralidade valorativa consiste na busca de uma neutralidade possível. De qualquer maneira, nesse texto ele não deixou de lembrar como muitos professores de sua época utilizavam a impossibilidade da neutralidade como desculpa para granjear adeptos de suas correntes ideológicas: “Considero, pois, uma irresponsabilidade que o docente aproveite esta circunstância para estampar nos ouvintes as suas próprias ideias políticas, em vez de se limitar a cumprir a sua tarefa: ser útil com os seus conhecimentos e com as suas experiências científicas”. Assim, para ele, “sempre que o homem de ciência surge com o seu próprio juízo de valor, cessa a plena compreensão dos factos”. O texto de Weber, diga-se de passagem, é de 1919 – veja, portanto, como esse problema não é novo.
No Brasil, diferentemente do que tem sido erroneamente propagado na internet, o educador Paulo Freire não apoiava a chamada “doutrinação”. Muito pelo contrário, ele preocupava-se em evitar todo tipo de educação autoritária. Nesse sentido, ele chamou de “bancária” toda educação que é vista como um mero processo de transferência de dados, tratando os alunos como depósitos de conteúdos. A educação bancária transforma os homens em seres passivos, meros espectadores do mundo em que vivem, como se não tivessem criatividade nem capacidade de refletir e transformar o mundo. Sob esse ponto de vista, uma escola que sempre “treine” os alunos para provas e para o tecnicismo do mercado, sem fomentar o diálogo e a discussão, seria muito mais “doutrinadora” do que qualquer professor de esquerda ou de direita. Isso porque ela apresenta conteúdos aos alunos como se fossem necessários e naturais, isto é, como se apenas devessem se estruturar dessa maneira.
Em contraposição à educação bancária, Paulo Freire defende uma educação humanista, que mostre como o homem pode transformar a realidade, e não simplesmente adaptar-se a ela. Para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimentos, mas dar aos educandos condições para que o produzam por si próprios e tenham uma reflexão crítica, despertando a curiosidade e a reflexão. Afinal, a ciência se faz em cima da discussão de problemas, e não de respostas prontas. A educação humanista é dialética, ou seja, homens se educam entre si: o aluno tem tanto a ensinar ao professor, quanto o professor tem a ensinar ao aluno. Em suma, “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”.
E autonomia é a chave para o entendimento dessa questão. Se a perfeita objetividade em qualquer das ciências é impossível, é preciso que os alunos tenham autonomia e um aparato crítico para entender que nenhum professor é dono da verdade, e que nenhuma teoria pode explicar de forma perfeita e completa a realidade. Com essa autonomia – que só vem verdadeiramente com muita leitura e discussão –, eles podem aprender com o professor, sem, no entanto, necessariamente se igualarem a ele. Essa autonomia não se produzirá automaticamente com o projeto Escola sem Partido ou com mil leis ou fiscalizações estatais. Ela só será possível numa escola na qual pais, alunos, professores e o conhecimento estejam em permanente diálogo.
Link do projeto de lei: https://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf
O Movimento Feminista e a Questão de Gênero

Um dos debates mais importantes nestes primeiros anos do século XXI gira em torno da questão de gênero: afinal, o que define “ser homem” ou “ser mulher”? De que forma nossa sociedade diferencia homens e mulheres? Essas questões se tornam cada vez mais incisivas com a percepção de como nossa sociedade patriarcal foi forjada a partir da submissão feminina diante do protagonismo do sexo masculino. Na linha de frente contra essa opressão à mulher, o movimento feminista tem ganhado destaque com a busca por igualdade de direitos em relação ao homem.
Para introduzir essa discussão, é essencial conhecer a visão de importantes pensadores sobre a distinção entre gênero e sexo. No século XX, vários filósofos, destacadamente os franceses Michel Foucault e Simone de Beauvoir, dedicaram-se a pensar o gênero e as relações de poder que envolvem esse conceito. Segundo eles, o sexo é um fator biológico, ou seja, ligado à constituição físico-química do corpo humano. Seria o caso, por exemplo, dos sexos masculino e feminino, associados àqueles que nascem com o corpo ligado a um dos dois grupos. Outra coisa é o gênero. Quando se fala em “gênero feminino”, são enfatizadas todas as características que a sociedade associa ao “ser mulher”; quando se fala em “gênero masculino”, são enfatizadas todas as características que a sociedade associa ao “ser homem”.
Para esses autores, ao contrário do sexo, o gênero não é biológico-natural, mas um constructo sociocultural. Em outras palavras, ao longo da história, cada sociedade criou os padrões de ação e comportamento de determinado gênero. Por exemplo, determinadas sociedades acreditam que alguém do gênero masculino deve ser “lutador”, “competitivo” e “corajoso”, ao passo que alguém do gênero feminino dever ser “dona de casa”, “dependente” e “passional”.
Assim, a representação do gênero feminino como submisso, inferior, frágil e dependente do homem é combatida hoje por diversos movimentos feministas, que ganham cada vez mais voz ativa. Esse movimento, cujas raízes remontam ao século XIX, é caracterizado por uma grande diversidade de propostas e correntes. Nesse sentido, quatro objetivos básicos podem ser associados ao feminismo.
Em primeiro lugar, o movimento busca colocar a mulher em pé de igualdade com o homem. Essa diferenciação é facilmente constatada a partir de inúmeros exemplos na sociedade brasileira. Segundo dados do IBGE, as mulheres, em média, ganham salários 20% inferiores aos dos homens, mesmo tendo maior escolaridade, o que, certamente, está ligado a uma mentalidade que vê a mulher como alguém que necessariamente deve ganhar menos que o homem, mostrando, por exemplo, que todos devem ter o mesmo salário. No passado, muitos colocaram essa situação de inferioridade da mulher como algo natural ou necessário. Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, por exemplo, diziam que a mulher não passaria de um macho “inacabado” ou “deficiente”. O feminismo ambiciona, assim, mudar a direção de um pensamento tão enraizado em nossa tradição.
Em segundo lugar, o feminismo combate todas as formas de opressão contra a mulher, como a violência doméstica e as chantagens sexuais ocorridas no mundo do trabalho. Nesse sentido, cabe destacar a importância da Lei Maria da Penha, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. Entre os avanços, a Lei Maria da Penha definiu claramente o que é violência doméstica e familiar contra a mulher e tipificou essa violência. Outro ponto importante é que determinou que o enfrentamento à violência contra a mulher é responsabilidade do Estado. O nome da lei é uma homenagem a uma farmacêutica que foi espancada de forma brutal e violenta diariamente pelo marido durante seis anos de casamento até ela tomar coragem para denunciá-lo.
Sobre essa questão especificamente, alguns podem perguntar: se todos são iguais, por que deveria haver proteção especial para a mulher? Isso não seria um privilégio? De maneira alguma. Tendo em vista que há uma desigualdade real na posição da mulher na sociedade brasileira, são necessárias, para uma efetivação da justiça, ações positivas que revertam esse quadro. Foi o sociólogo português Boaventura de Souza Santos quem melhor resumiu a questão: “Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. Igualdade, assim, não significa igualitarismo: igualitarismo significa não reconhecer as diferenças (o que é, certamente, negativo), ao passo que igualdade significa conceder a todos as mesmas oportunidades. É preciso, dessa forma, uma igualdade que reconheça as diferenças e que aja para reverter desigualdades social e historicamente impostas.
Em terceiro lugar, o feminismo visa a dar à mulher a liberdade de escolher a forma de se comportar e se expressar, independentemente das convenções de gênero estabelecidas por uma sociedade. Por exemplo, sob o lema A Dress Is Not a Yes (“um vestido não é um sim”), o movimento chamado Marcha das Vadias teve origem em 2011, no Canadá, para combater o discurso que culpa a mulher pelo estupro: nunca uma mulher, por sua roupa ou pelo horário que escolheu andar na rua, é culpada pela violência que sofre. De acordo com o movimento, ela é sempre livre para escolher por onde circular e como se expressar. E a responsabilidade do estupro é do estuprador.
O pior é que muitos não pensam dessa forma. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que 30% dos brasileiros concordam com a seguinte frase: “A mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada”. Essa estatística diz muito sobre o aumento nos registros de estupro no Brasil, que cresceram 157%, entre 2009 e 2013.
Por fim, o feminismo visa a colocar a mulher como sujeito da própria história. Nesse sentido, é preciso que as mulheres conquistem maior visibilidade, nas escolas e na universidade, nos meios de comunicação e nos livros de história. Quantas vezes você já ouviu falar de Mary Wollstonecraft? Filósofa inglesa, ela escreveu, durante a Revolução Francesa, Os Direitos da Mulher, no qual criticava os franceses por, apesar de terem abolido o autoritarismo do rei, continuarem a ser autoritários com a esposa: “Vocês acabaram com um déspota (Luís XVI), mas continuam permitindo que treze milhões de escravas suportem as cadeias de treze milhões de déspotas”.
A livre expressão de gênero é um tema que está na ordem do dia. O filósofo italiano Norberto Bobbio certa vez escreveu que “o direito formado pelo livre jogo de forças em luta é sempre o direito do mais forte”. O filósofo alemão Karl Marx, da mesma forma, lembrou como “entre direitos iguais e opostos decide a força”. Para eles, se deixarmos as coisas como estão, a tendência é a perpetuação das desigualdades e injustiças. Somente a ação pela igualdade e pela livre expressão pode suprimir injustiças diariamente perpetuadas. E isso é válido não só para o movimento feminista, mas para qualquer iniciativa que busque a igualdade de direitos em diferentes frentes.
VIDEOAULA: O FEMINISMO DE MARY WOLLSTONECRAFT
Filósofos relacionados
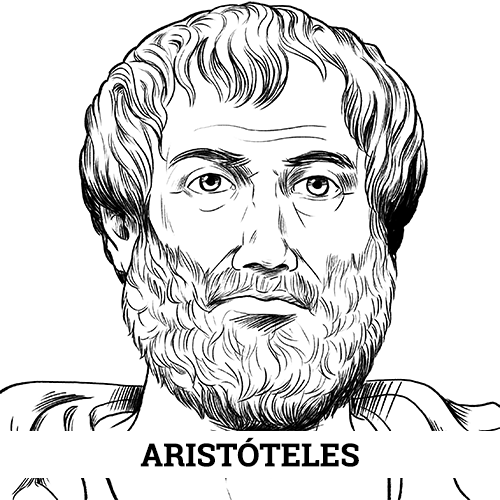 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo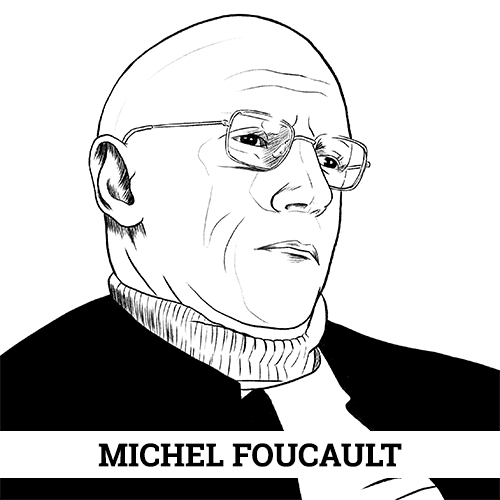 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo
Locke e a Liberdade de Expressão

Na atualidade, há uma crescente tensão nas relações entre liberdade de expressão, tolerância e convivência. Na política, a democracia é um regime que permite a todos a expressão de seus pontos de vista. E vai além: um regime democrático pressupõe que as divergências de opiniões, longe de ser sintomas de um conflito, são férteis, posto que enriquecem o debate.
O problema é que, frequentemente, correntes de opinião assumem um caráter de facção e passam a ter como único objetivo criticar o opositor, utilizando-se para isso de mentiras, trapaças ou argumentos preconceituosos. Diante desse quadro de intolerância que permeia as discussões contemporâneas, surgem algumas questões: como manter a liberdade de expressão e consciência e, simultaneamente, garantir a integridade, a propriedade e a igualdade de todos? Uma opinião cujo fundamento seja a destruição do próximo deve ser tolerada?
Para esclarecer esse ponto, vamos à história da filosofia. O direito de livre consciência surgiu no bojo das guerras religiosas da Europa moderna (1453-1789): os primeiros defensores da liberdade de expressão encontraram na fórmula “cada um, sua religião” a maneira de evitar confrontos religiosos. Pensar a religião como uma questão individual foi uma forma genial de evitar as guerras que ensanguentaram a Europa moderna.
Nesse sentido, coube a Locke, em sua Carta sobre a Tolerância (1685-1686), lançar com clareza as bases da noção liberal de liberdade de expressão. No texto, o autor sustenta sua ideia-chave de que a comunidade política tem origem num contrato, cuja função é obter, preservar e ampliar os direitos civis, ou seja, “vida, liberdade, salvaguarda do corpo e a posse de bens externos”. A função do Estado e das leis é tão-somente garantir esses direitos naturais. A jurisdição do Estado termina justamente nesses direitos e não pode interferir na salvação de almas: “Seu poder (do Estado) consiste somente na força externa, e a verdadeira e salvadora religião consiste na persuasão interna da mente”.
Como assim? A comunidade religiosa, pensa Locke, não consiste numa comunidade política, mas em uma comunidade livre e voluntária, na qual as pessoas entram por vontade espontânea e autônoma – e, da mesma forma, podem dela sair. As igrejas seriam, como os clubes, expressões de opiniões particulares, modos privados de fazer e dizer certas coisas. Para ele, a religião é uma questão ligada à consciência individual, sobre a qual todo homem “tem a autoridade suprema e absoluta de julgar por si mesmo”. Como a comunidade religiosa não é uma comunidade política, ela não tem o poder de “outorgar leis” nem de infringir qualquer outra punição além da cessação das relações entre a igreja e o membro. Locke, com esse preciso argumento, fornece um sustentáculo racional e político à autoridade eclesiástica.
Nesse sentido, para Locke, o poder político deve ser indiferente à comunidade religiosa: por um lado, não deve restringir ou reprimir suas ações ou crenças e, por outro, não deve favorecê-las e aplicá-las como lei. Assim como o magistrado não pode forçar o homem a ser rico ou saudável, mas apenas garantir a liberdade para que cada indivíduo escolha seu caminho, o cuidado com a alma pertence apenas ao indivíduo, cabendo ao magistrado apenas assegurar a liberdade de escolha.
Aqui, portanto, nota-se que a religião, fruto da livre consciência, se enquadra, do ponto de vista do governo civil, como mais um direito, equivalente à propriedade ou à vida: “O objetivo das leis não é prover a verdade das opiniões, porém a segurança e integridade da comunidade, e a pessoa e as posses de cada homem em particular”. Eis o conceito liberal de tolerância: não implica bem querer, tampouco apoio ou aceitação, mas uma indiferença.
Entretanto, em Locke, a tolerância tem como limite a própria intolerância: a religião que não respeitar os direitos civis ou que não aceitar a tolerância não deve ser aceita. Em caso de conflito entre as leis civis e as crenças religiosas, as primeiras devem ser aceitas: “O bem comum é a regra e a medida de toda a legislação. Se algo não é útil à comunidade, apesar de ser indiferente, não pode ser estabelecido pela lei”. Aquele que julga firmemente que sua religião não deve respeitar as regras da comunidade política deverá aceitar as consequências legais de sua posição.
Esse conceito de tolerância como indiferença, assim, permeará os debates nos séculos posteriores. A própria Constituição brasileira garante que o homem tem direito a ter qualquer opinião, atitude ou crença, desde que elas não façam mal ao próximo – o que expressa o entendimento fundamentado por Locke.
No entanto, por mais que as ideias de Locke pareçam claras na teoria, no momento da aplicação a questão se torna mais tortuosa e difícil. Na França atual, por exemplo, debate-se se a mulher pode ou não utilizar burca publicamente: para alguns, a burca representa uma ameaça à comunidade, pois pode ser usada para esconder bombas ou armamentos, além de ser um atentado às liberdades femininas; para outros, o uso da burca é um direito de expressão religiosa.
O problema, perceba, continua a ser debatido nos mesmos termos de Locke: a burca é um perigo à comunidade (por isso, devendo ser proibida) ou uma maneira de livre expressão da consciência (por isso, devendo ser tolerada)? No presente, quando o medo do terrorismo e a discriminação contra o povo islâmico estão em ascensão na Europa, torna-se mais difícil entender quem, nessa discussão, está exercendo a intolerância.
Como lidar com essa questão? Hoje, o conceito lockiano de tolerância como indiferença talvez seja demasiadamente frágil. No mundo ocidental, temos religiões perseguidas não só pelo governo, como na época de Locke, mas pela própria sociedade. Nesse sentido, é preciso ações positivas (e não indiferentes) do governo para evitar discriminações e repressões contra determinadas religiões, comunidades ou pontos de vista. Locke disse que tolerância não é bem querer, tampouco apoio ou aceitação, e sim uma indiferença. Mas, no mundo atual, talvez seja preciso bem querer a liberdade do próximo: ter um amor não exatamente à religião do outro, mas à diversidade. Por isso, a ideia de convivência seja mais apropriada na contemporaneidade do que a tolerância lockiana.
A Democracia Brasileira no Século XXI

O Brasil dos primeiros anos do século XXI vive uma verdadeira efervescência política: surgimento de novos movimentos sociais, momentos extremos de polarização, desgaste de antigas estruturas e investigações profundas de escândalos de corrupção são alguns aspectos desse momento histórico. A democracia brasileira, em pouco mais de duas décadas, viveu dois processos de impeachment presidencial. Nenhum ex-presidente do Brasil ainda vivo está isento de alguma denúncia de corrupção, seja ela injusta ou não.
Mas a questão que nos interessa é: o que isso diz sobre nós? Isso seria prova da fragilidade do regime democrático? Ou, pelo contrário, o problema não reside na democracia, mas na sociedade brasileira? Para refletir sobre a democracia, pensaremos tanto no contexto histórico brasileiro quanto no percurso histórico-filosófico mundial.
Na Grécia antiga, o regime democrático foi implantado pela primeira vez na história por Clístenes, em Atenas, em 508 a.C., e entrou em decadência a partir das conquistas de Alexandre, o Grande, iniciadas em 336 a.C. Na história da filosofia, foram muitos os autores que apontaram para os possíveis problemas da democracia. A maior parte dos filósofos gregos opunha-se à democracia – e esse é o caso de Platão e Aristóteles. Para eles, a democracia é sinônimo de demagogia, isto é, controle daqueles que melhor falam (como os sofistas da época), e não daqueles que estariam preocupados com o bem público. Por isso, Platão defendia um governo de filósofos. Já Aristóteles, mais modesto quanto à capacidade de liderança dos seus pares, propunha que os pensadores não governassem, mas auxiliassem os reis.
A democracia só voltaria ao debate com o Iluminismo, durante o processo de independência dos Estados Unidos, e na Revolução Francesa. A maioria dos filósofos iluministas, como Voltaire e Montesquieu, opunha-se ao regime democrático, de acordo com a fórmula “tudo para o povo, nada pelo povo”: eles defendiam uma monarquia esclarecida, isto é, que impusesse, de cima para baixo, as medidas necessárias para o progresso do país.
A partir do século XVIII, a defesa da democracia foi encampada por alguns filósofos iluministas, como é o caso de Jean Jacques Rousseau, na França, e Thomas Paine, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Para eles, os males da democracia seriam resolvidos pela educação: é o esclarecimento das massas que evita a degeneração da democracia em demagogia, tirania da maioria (opressão da maioria sobre a minoria) ou anarquia (termo que, para eles, se associa à desordem).
Durante a Revolução Francesa e ao longo do século XIX, debateu-se se o voto universal ou censitário seria o mais adequado. A maioria dos liberais, como Benjamin Constant ou Stuart Mill, defendia uma democracia restrita, isto é, com o voto limitado aos homens de renda ou aos intelectuais. Para eles, se todo homem pudesse votar ou ser votado, a propriedade privada estaria mais ameaçada, uma vez que a turba teria uma tendência a lutar pela igualdade.
Nas primeiras décadas do século XX, a emergência de regimes ditatoriais fascistas e socialistas pareceu solapar a democracia: ambos rejeitavam, de maneiras distintas, a herança da Revolução Francesa, como a defesa das liberdades individuais. A democracia liberal, com voto universal, foi conquistada na Europa Ocidental apenas após a II Guerra Mundial. Na América Latina e no Leste Europeu, ela foi conquistada somente na década de 1990. Nota-se, portanto, que a democracia é uma conquista historicamente recente em todo o mundo.
No caso brasileiro, especificamente, a democracia é extremamente nova. Após o fim da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), a primeira vez que um presidente eleito passou a faixa presidencial para outro, de oposição, igualmente eleito foi em 2003, quando Fernando Henrique Cardoso deixou a Presidência e Luiz Inácio Lula da Silva assumiu.
Além disso, é preciso enfatizar a forte tradição autoritária no Brasil. Após mais de 300 anos de dominação colonial, a primeira Constituição do país, datada de 1824, carregava traços autoritários fortíssimos, como o Poder Moderador, que dava ao Imperador a autoridade de interferir nos outros poderes. Depois da proclamação da República, em 1889, os traços autoritários permaneceram, com uma estrutura política fortemente oligárquica, coronelista e paternalista. Em 1930, Getúlio Vargas impôs ao país uma modernização conservadora sem diálogo concreto com a população, utilizando-se de meios como a tortura, a censura e o fechamento do Congresso. Após a Era Vargas (1930-1945), tivemos um período relativamente democrático, que perdurou até 1964, quando os militares, com o apoio de diversos setores da sociedade civil, derrubaram João Goulart e interromperam o processo democrático. A volta da democracia, com eleições diretas para a Presidência, só ocorreria em 1989.
Essa tradição autoritária e elitista do Brasil e o fato de a democracia brasileira ser extremamente jovem acabam afetando o debate político na sociedade. Para compreender melhor como esse problema se dá, é preciso fazer a distinção entre dois conceitos: partido político e facção. A facção remontaria ao verbo latino facere e estaria associada à ideia de um grupo político fechado ao diálogo, dedicado a ações perturbadoras e nocivas contra seus inimigos. Por sua vez, partido também remontaria originalmente a um verbo latino: o partire, significando dividir. O partido seria “mais flexível e mais suavizado”, aberto ao diálogo e respeitador do bem comum. O filósofo Nicolau Maquiavel, que fez a distinção dos termos partido e facção em seus Discursos sobre a Primeira Década em Tito Lívio, deu um exemplo bem atual: enquanto uma facção se utiliza da “calúnia”, um partido utiliza-se da “denúncia pública”, adaptável ao arranjo republicano.
No Brasil, nesse sentido, muitos tratam o seu “lado” na política como se fosse a parte de uma facção, ou seja, não se sujeitam ao debate, não aceitam o diálogo, demonizam aqueles que pensam de forma diferente e, por fim, não aceitam a realização do processo democrático com a vitória do adversário (que é, note, um adversário, e não um inimigo). Isso vem sendo facilmente observável nesse processo mais recente de polarização política, seja nas ruas, seja nas redes sociais.
Em termos maquiavelianos, a ideia faccionária de política opõe-se à ideia de república, posto que essa última preza pelo bem comum, independentemente das diferenças partidárias. O membro de um partido, mesmo que derrotado, espera um bom governo de seu adversário vencedor, pois preza pelo bem do país acima de tudo; o membro de uma facção, quando derrotado, torce e trabalha pelo mau governo de seu adversário, pois almeja a direção do país a qualquer custo.
Apesar de todos os problemas, não há motivos para dizer que a democracia é um tipo de governo que “deu errado”. Muito pelo contrário, por ser um tipo de governo pouco experimentado na história, ela pode e deve se aperfeiçoar. Mais do que isso: diferentemente de ditaduras ou monarquias absolutistas, a democracia é um regime que, em essência, é aberta ao aperfeiçoamento, e aí reside sua maior virtude. Nesse sentido, Norberto Bobbio, filósofo político italiano que se autodenominava “liberal socialista”, certa vez disse que a única solução para os males da democracia é mais democracia. Em outras palavras, a solução para a corrupção ou a intolerância na democracia nunca será a ditadura, mas uma maior participação política, transparência, informação e debate. No mesmo sentido, disse o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill: “A democracia é a pior de todas as formas de governo, excetuando-se as demais”. Com todos os problemas, a democracia continua a ser o único tipo de governo capaz de reformar a si mesmo.

 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo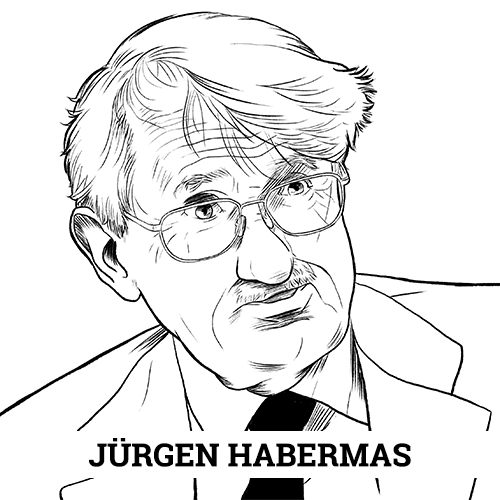 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo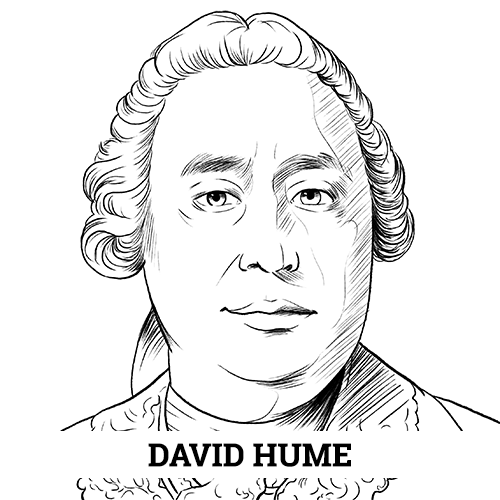 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo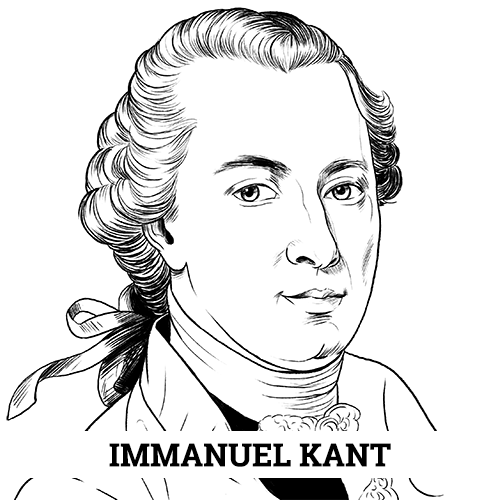 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo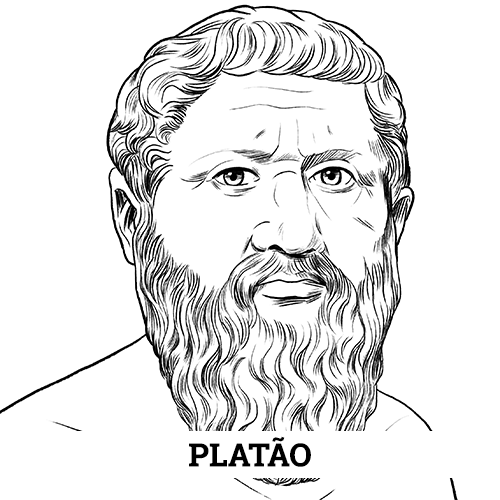 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo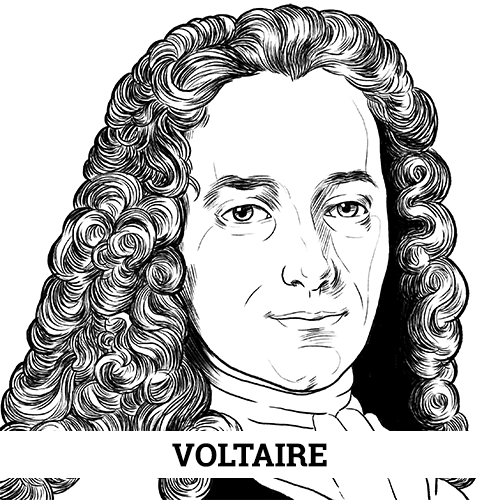 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo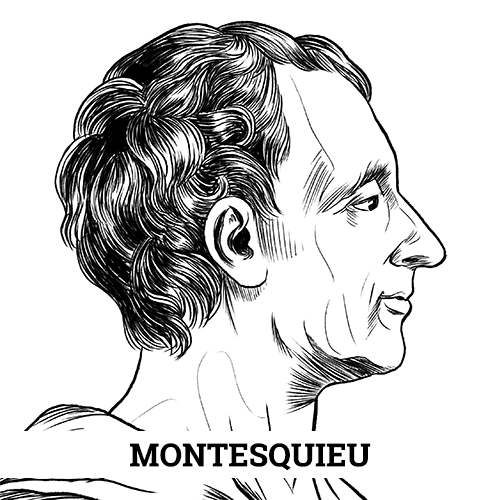 Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo Imagem sem texto alternativo
Imagem sem texto alternativo